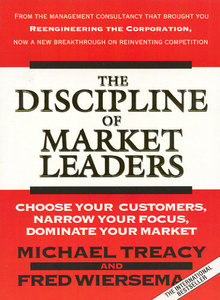A história da humanidade é marcada por acontecimentos
que transformaram profundamente o ambiente social. Esses acontecimentos tanto
podem ter origem na difusão de inovações técnicas que alteram o contexto
econômico-social, como reformulações políticas e culturais, que acabam por
mudar as estruturas estabelecidas, alterando a forma como o homem interage com
o meio ambiente.
Nesse sentido, a queda do Império Romano, a
intensificação do comércio e formação das cidades a partir do século XIII na
Europa, a difusão da imprensa a partir do invento de Gutenberg, o descobrimento
das Américas, a revolução produtiva da máquina a vapor dando sustento à
formação do capitalismo industrial, etc., tratam-se de acontecimentos que, em
maior ou menor grau, causaram reformulação na sociedade estabelecida.
Não interessa aqui apresentar uma classificação de
períodos históricos, mas compreender a importância desses acontecimentos, não
como decorrentes de fatos isolados, mas na sua relação com as transformações na
sociedade humana.
Por cem anos
(...) o conhecimento foi aplicado a ferramentas, processos e produtos, criando
a Revolução Industrial, mas também aquilo que Karl Marx (1818-1883) chamou de
“alienação”, novas classes e guerra de classes, e com elas o comunismo. Em sua
segunda fase, iniciada por volta de 1880 e culminando com o fim da Segunda
Guerra Mundial, o conhecimento em seu novo significado passou a ser aplicado ao
trabalho, resultando na Revolução da Produtividade, que em setenta e cinco anos
converteu o proletariado na classe média burguesa, com renda próxima à da
classe superior. Assim, a Revolução da Produtividade venceu a guerra de classes
e o comunismo.
A última
fase começou depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, o conhecimento está
sendo aplicado ao próprio conhecimento. É a Revolução Gerencial. O conhecimento
está rapidamente se transformando no único fator de produção, deixando de lado
capital e mão-de-obra. Pode ser prematuro (e certamente presunçoso) chamar a
nossa sociedade de “sociedade de conhecimento”; por enquanto, temos certamente
uma economia do conhecimento. Mas nossa sociedade é certamente
“pós-capitalista”. (Drucker, 1997, p. 3-4)
Luciano Coutinho destaca o papel da inovação
tecnológica e identifica sete principais tendências que vêm se destacando a
partir de meados da década de 1970: “(1)
o peso crescente do complexo eletrônico; (2) um novo paradigma de produção
industrial – a automação integrada flexível; (3) revolução nos processos de
trabalho; (4) transformação das estruturas e estratégias empresariais; (5) as
novas bases da competitividade; (6) a ‘globalização’ como aprofundamento da
internacionalização; e (7) as ‘alianças tecnológicas’ como nova forma de
competição.” (Coutinho, 1992, p. 71).
O autor observa ainda a evolução dessas
características a partir dos países industrializados:
As condições
técnicas para a constituição do “complexo eletrônico” estavam configuradas
desde os meados dos anos 70, nas economias industriais avançadas, com a
aproximação da base tecnológica das indústrias de computadores e periféricos,
telecomunicações, parte importante da eletrônica de consumo e um segmento da
área de automação industrial. Foi ao longo dos anos 80 e especialmente na fase
de crescimento mundial contínuo após 1983 que a rápida difusão de bens e
serviços do complexo eletrônico preencheu inequivocamente as condições
econômicas schumpeterianas, produzindo o que Cristofer Freeman e Carlotta Peres
denominaram de um verdadeiro “vendaval de destruição criativa”. (Coutinho, 1992, p. 71)
Peter Drucker, observando pelo foco gerencial e
histórico, verifica a influência das inovações tecnológicas em interação com as
dinâmicas sociais do capitalismo, fazendo surgir o que ele chama de
"Revolução Gerencial":
Esta
terceira mudança na dinâmica do conhecimento pode ser chamada de “Revolução
Gerencial”. Como suas predecessoras – conhecimento aplicado à ferramentas,
processos e produtos e conhecimento aplicado ao trabalho humano – a Revolução
Gerencial já se estendeu a todo o planeta. Foram precisos cem anos, da metade
do século dezoito até a metade do século dezenove, para que a Revolução
Industrial dominasse o mundo. Foram precisos cerca de setenta anos, de 1880 até
o fim da Segunda Guerra Mundial, para que a Revolução da Produtividade fizesse
o mesmo. E menos de cinquenta anos – de 1945 a 1990 – para que a Revolução
Gerencial também dominasse o mundo.
(Drucker, 1997, p. 22)
O sociólogo americano Immanuel Wallerstein também
concorda com a ideia que o sistema capitalista está em transformação. Porém a
visão desse autor não reconhece a evolução, mas a superação do sistema, pelo
fato dos mecanismos de acumulação de capital estarem se exaurindo:
(...) o
sistema existe para a acumulação incessante de capital. O que eu venho
argumentando é que isso está sendo prejudicado por três razões: um, o nível
mundial de salários vem subindo e deve continuar crescendo por causa da “desruralização”
do mundo; dois, o preço da matéria-prima vem subindo por causa do fim da
possibilidade de externalização barata dos custos, essa é a crise ecológica; e
três, o preço da arrecadação de impostos vem subindo mundialmente – a
porcentagem de dinheiro recolhido, que é destinada ao Estado, por aquilo que eu
chamo de democratização do mundo, à medida que a população pressiona o Estado
para que este lhe propicie saúde, educação e renda perpétua.
Então, há
três fatores, em escala mundial, que vêm encolhendo as margens de lucro – e vão
continuar a fazê-lo cada vez mais. Por um lado, do ponto de vista dos
capitalistas, vale cada vez menos fazer parte do sistema e, por outro lado, é
cada vez mais difícil de manter legitimidade política. (Wallerstein, 1999)
Talvez se possa argumentar que a própria tecnologia
da informação, pela difusão de inovações técnicas e gerenciais, contribua para
esse processo, de modo que a busca por vantagens competitivas se tornaria cada
vez mais complexa (como relacionada à produtividade do trabalho do
conhecimento) ou situacional e menos duradoura. Trata-se do argumento, já considerado
por Michael Porter (ver AQUI), que a competição, apesar do
desenvolvimento tecnológico, antes de fortalecer as organizações econômicas
está a levá-las a uma posição de maior fragilidade, dados os custos na busca
por vantagens na fronteira tecnológica.
Wallerstein causa polêmica com sua opinião de que
mesmo as melhorias atribuídas ao capitalismo constituem uma interpretação falsa,
quando indagado sobre a forma de avaliar as condições humanas:
(...) Você
tem de medir em termos de quantidade real de comida para comer, de espaço para
usar, de recursos naturais para aproveitar e até longevidade. Eu não estou
completamente convencido de que a longevidade aumentou. Claro que sim,
estatisticamente, mas muito desse aumento tem a ver com a sobrevivência
infantil, entre as idades de 0 a 1 ano e de 0 a 5 anos. Não estou muito
convencido de que as pessoas que atingem os 5 anos vivem mais do que elas
viviam antigamente. E, você sabe, as pessoas têm televisão agora, o que elas
não tinham cem anos atrás, mas possuíam outras formas de divertimento. As
pessoas vivem em uma favela urbana e antes elas moravam em uma cabana agrícola
– qual é melhor? Nós temos um trabalho difícil de medir qualidade de vida. As
pessoas morriam por razões diferentes; se essas são melhores ou piores do que as razões (ou doenças)
pelas quais se morre agora, eu não sei. (Wallerstein, 1999)
Alvin Toffler, entretanto, apresenta uma visão mais
coerente a respeito:
(...) Já se
observou, por exemplo, que se os últimos 50 mil anos de existência do homem
fossem divididos em gerações de aproximadamente 62 anos cada, terá havido cerca
de 800 gerações. Dessas 800, 650 foram passadas nas cavernas.
Somente
durante as últimas 70 gerações foi possível haver uma comunicação efetiva de
uma geração para outra – porque a escrita a tornou possível. Somente durante as
últimas seis gerações é que massas de indivíduos chegaram a ver uma palavra impressa.
Somente durante as últimas quatro foi possível medir o tempo com alguma
precisão. Somente nas últimas duas é que alguém, em algum lugar, fez uso de um
motor elétrico. E a esmagadora maioria de todos os bens materiais que usamos na
vida diária de hoje foram desenvolvidos dentro da atual, a 800a
geração. (Toffler, 1998, p. 25)
De qualquer forma, reconhecendo-se o histórico de
alterações sociais e o dinamismo das mudanças no sistema capitalista,
inevitavelmente se verifica o crescimento da importância da formação
educacional do indivíduo e sua atualização constante. Mais que nunca, a difusão
tecnológica e todas as suas implicações e oportunidades levam à necessidade de
formação de indivíduos com competências intelectuais nunca antes requisitadas.
Se, em seus primórdios, o capitalismo necessitava
separar o trabalhador qualificado de suas ferramentas, o que só conseguiu com o
aperfeiçoamento tecnológico, agora é justamente a inovação tecnológica que
necessita do conhecimento do trabalhador qualificado para desenvolver-se. A
especialização para o trabalho não é a mesma, estando relacionada ao
conhecimento, assumindo um caráter mais generalista e de capacidade de
adaptação.
Quando, em
1926, decidi não ir para a universidade, mas trabalhar, depois de concluir o
segundo grau, meu pai ficou desolado; nossa família era tradicionalmente de
advogados e médicos. Mas ele não tentou me fazer mudar de idéia, nem profetizou
que eu nunca seria nada. Eu era um adulto responsável que desejava trabalhar como
adulto.
Cerca de
trinta anos depois, quando meu filho completou dezoito anos, eu praticamente
forcei-o a fazer um curso superior. Como seu pai, ele queria ser um adulto
entre adultos. Como seu pai, ele sentia que havia aprendido pouco em doze anos
de escola e que suas chances de aprender mais ficando mais quatro anos não eram
particularmente grandes. Como seu pai naquela idade, ele focalizava ações e não
o aprendizado.
Mas 1958,
trinta e dois anos depois que eu saíra da escola para ser estagiário em uma firma
de exportação, um diploma universitário passara a ser uma necessidade. Em 1958,
não fazer um curso superior era “cair fora” para um jovem americano que havia
crescido em uma família próspera e se saíra bem nos estudos. Meu pai não teve a
menor dificuldade em achar uma vaga para mim em uma empresa respeitável. Trinta
anos depois, nenhuma dessas empresas teria aceito um graduado no segundo grau
como estagiário; todas elas teriam dito: “Vá para a faculdade por quatro anos –
e a seguir faça um curso de pós-graduação”. (Drucker, 1997, p. 20-21)
BIBLIOGRAFIA
CONSULTADA:
COUTINHO, Luciano. A Terceira Revolução Industrial e Tecnológica. Revista do Instituto
de Economia da Unicamp, Campinas, n. 1, p. 69-87, ago. 1992.
DRUCKER, Peter. Sociedade
Pós-Capitalista. 7. ed. São Paulo: Pioneira, 1997.
TOFFLER, Alvin. O
Choque do Futuro. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
WALLERSTEIN, Immanuel. A Ruína
do Capitalismo. Folha de S. Paulo, 17. out. 1999. Mais!, p. 9-10. Entrevista concedida a
Gustavo Ioschpe.